Obrigado pela sua leitura! Dare you see a soul at the white heat? Emily Dickinson White light goin', messin' up my mind Velvet Underground In this street There is no beginning, no movement, no peace and no end But noise without speech, food without taste. T.S. Eliot, “Choruses from ‘The Rock’” 1. Não sei por qual motivo, mas sempre tive a impressão de que a verdadeira cor da internet é o branco. Pensei nisso quando, ao estudar a Weltanschauung que fundamentava as inovações tecnológicas de Steve Jobs para um ensaio a ser publicado, notei que ela devia muito às pseudo-religiões surgidas tanto da Nova Era defendida por gurus terapêuticos como Fritjof Capra e Ken Wilber como daquela ideologia utópica que chamavam de “ampliação da consciência” e que fez fama nas cabeças derretidas dos anos 1960. Essa “cosmologia” promovia uma união idiossincrática entre a tecnologia e o ser humano, a qual teria sua consequência concreta (e prática) com a criação do que hoje conhecemos como o “computador pessoal”. Essa síntese, se podemos chamá-la assim, promovia a libertação do indivíduo diante de uma sociedade que atrofiava a percepção subjetiva do real; contudo, ela também se prendia ao paradoxo de que, para ser eficaz no tecido coletivo, precisaria de uma ordem, de uma hierarquia que desse um sentido a esta busca pela igualdade do ser humano em um mundo onde o caos parece dominar tudo. Tal hierarquia não pode ser encontrada diretamente por nós na realidade objetiva – e um dos resultados desse impedimento é que as pessoas possuídas por essas variações da ideologia utópica, integrantes de um “círculo dos sábios”, querem alterá-la no seu fundamento. Elas têm, portanto, uma sensibilidade esteticista ao contemplar o mundo, uma sensibilidade na qual o Belo fica autônomo diante dos princípios do Bom e do Verdadeiro. Com isso, resolvem encontrar uma “ordem secreta” por meio das obras de arte, impassível a qualquer tipo de ruído que venha da imprevisibilidade da vida, criando assim todo um ritual, toda uma liturgia que dê coerência a esta falsa visão-de-mundo. 2. Para um ritual ou uma liturgia terem impacto na imaginação de quem vai usufruí-los, a cor branca é importantíssima. Segundo o clássico Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, o branco situa-se “nas duas extremidades da gama cromática. Absoluto – e não tendo outras variações a não ser aquelas que vão do fosco ao brilhante – ele significa ora a ausência, ora a soma das cores. Assim, coloca-se às vezes no início e, outras vezes, no término da vida diurna e do mundo manifesto, o que lhe confere um valor ideal, assintótico. Mas o término da vida – o momento da morte – é também um momento transitório, situado no ponto de junção do visível e do invisível e, portanto, é um outro início. O branco – candidus – é a cor do candidato, daquele que vai mudar de condição”. É também um “valor-limite”, que define as duas extremidades da linha infinita do horizonte; e é uma “cor de passagem”, cujos ritos operam “mutações no ser, segundo o esquema de toda a iniciação espiritual: morte e renascimento”. Tal iniciação acentua a “valorização positiva” do branco, pois não se trata mais do “atributo do postulante ou do candidato que caminha para morte, mas daquele que se reergue e que renasce, ao sair vitorioso da prova”. É a cor da “revelação, da graça, da transfiguração que deslumbra e desperta o entendimento, ao mesmo tempo em que o ultrapassa: é a cor da teofania (manifestação de Deus), cujo vestígio permanecerá ao redor da cabeça de todos aqueles que tenham conhecido Deus, sob a forma de uma auréola de luz que é exatamente a soma das cores”. Este sentimento de fazer parte de um rito iniciático era fundamental para que a Apple de Steve Jobs, por exemplo, passasse a impressão de ser mais do que uma mera empresa capitalista. Ela deveria ter, sem dúvida, o caráter de um culto, com toques místicos, o qual auxiliaria na tranquila experiência do ócio contemplativo em um mundo possesso pela aceleração do tempo histórico. Por isso, privilegiava o design dos seus produtos, em especial dos gadgets, como o computador e o IPod, atraindo assim um público capaz de segui-lo sem quaisquer perguntas incômodas e que, por consequência, contraísse a mesma sensibilidade esteticista. Esta foi a grande novidade que Jobs instituiu na indústria do computador pessoal: suas máquinas não eram apenas máquinas de processamento, mas sobretudo objetos que seriam bonitos de olhar e, em especial, de tocar. Para ele, a beleza tinha de ser funcional e vice-versa. Foi o que aconteceu quando criou os computadores Apple I, Apple II e o Macintosh, dentro do famoso estilo que posteriormente foi chamado de “Branca de Neve”, no qual a tela, o desktop e o teclado tinham de ser ora da cor branca, ora da cor bege porque os designers da empresa descobriram que a luz do sol – este gigantesco ruído na harmonia da natureza – estragava qualquer outra tonalidade a ser acrescentada no aparelho. Havia, porém, uma outra razão para Jobs gostar tanto da cor branca. Tratava-se da obsessão pelo mantra “foco e simplicidade”, a fórmula que o ajudava a gerenciar uma empresa com mão de ferro. Tanto a fixação por esta cor como a preocupação de se manter sempre fiel a esta bussola (a)moral nos remetem à tradição tipicamente americana de ficar intrigada com o branco (é só nos lembrarmos dos poemas e das vestimentas de Emily Dickinson). Aqui, além do fato desta cor possuir o significado de pureza e da busca da perfeição, como já escrevi aqui, ela pode ter um sentido oposto, como Herman Melville já decifrou neste famoso trecho de Moby Dick (1850):
Essa “qualidade furtiva” do branco pode também ser visto como um símbolo de que tudo está sob o controle de quem deseja ser o capitão da nau ou o empreendedor de toda uma rede de informações – seja a Apple ou a própria Internet como um todo. 3. Para este tipo de personalidade, todas as rugosidades do solo, todas as imperfeições do real podem ser dominadas em uma única paisagem, uniforme, indistinta. Era assim que pensava o arquiteto suíço Charles Edouard Jeannet, mundialmente conhecido pelo apelido de Le Corbusier (um trocadilho com o verbo courber em francês, “dobrar”, e com o pássaro “corvo” – corbeau –, notório, aliás, por sua cor negra), que escreveu o seguinte em uma anotação no seu diário, durante os anos de 1910/11: “Sob a luz branca, quero uma cidade inteiramente branca”. Le Corbusier foi um dos arquitetos mais famosos do século XX e um dos responsáveis pela criação do termo “máquina de morar” ao se referir às suas habitações idealizadas, construídas para seres humanos que, no decorrer do curso histórico – contaminado pela aceleração do tempo e pela progressiva substituição da experiência do ócio por uma técnica que a pasteurizou no cotidiano –, se revelariam como os exemplos do “novo homem” – mais especificamente, o operário socialista que deveria se libertar das amarras da sociedade burguesa. Para isso ocorrer de fato, Le Corbusier planejou uma vila habitacional em Paris onde os fundamentos da sua construção seriam apenas três: concreto, vidro – e a cor branca, é claro. O resto, segundo Le Corbu (como chamavam-no seus amigos), era absolutamente dispensável – e se por acaso o “novo homem” não estivesse de acordo com essas regras, então não estaria preparado para a “nova arquitetura” prestes a surgir e a qual mudaria a vida das grandes cidades do mundo. De acordo com o suíço, era claríssimo para ele que “o homem deveria construir o seu eixo de harmonia, em um perfeito arranjo com a natureza e, provavelmente, com o universo” e que, portanto, “o estabelecimento de padrões era necessário para encarar o problema de [como aplicar] essa perfeição” tão desejada. 4. Ora, a arquitetura é uma arte que lida, grosso modo, com o problema intrínseco da imperfeição que há no mundo real, pois ela procura soluções que facilitam ou aperfeiçoam a moradia das pessoas. Antes do século XIX, l´architeture era algo que só existia para prédios e lugares públicos – e destinados a pessoas financeiramente abonadas. O resto da população vivia em casebres, cortiços e sobrados – ou até mesmo em favelas, com um sujeito literalmente empilhado sobre o outro. Le Corbusier acreditava que era um gênio supostamente solitário. Os únicos que podiam acompanhá-lo em suas inovações habitacionais seriam os representantes da Bauhaus (“casa para construção”, em alemão), um círculo de sábios disfarçado de escola de arquitetura fundada por Walter Gropius em 1919. Graças às verbas dadas pelo governo alemão, que pretendia criar novos ares à paisagem urbana por causa da devastação provocada pela Primeira Guerra Mundial, a Bauhaus teve acesso a uma grande soma de dinheiro, em que se conseguiu colocar em prática os planos teóricos promulgados por esses arquitetos. Com tudo isso à sua disposição, estes iluminados decidiram que a “nova arquitetura” seria a busca radical por “foco e simplicidade”, pelas cores mínimas e pela eficácia prática nas moradias populares. O resultado foi que, na vida como ela é, os prédios da Bauhaus são lindos de se olhar, mas péssimos para se viver. São peças de museu a céu aberto e que só existiram porque políticos de índole social-democrata foram ludibriados pela visão utópica de que este tipo de arquitetura ajudaria a construir o tal do “novo homem”. Já no caso de Le Corbusier, sua vila habitacional em Paris é um monumento ao nada – e o único lugar que resolveu aplicar os seus princípios estéticos foi nada mais, nada menos que o Brasil, cuja capital, Brasília, foi concebida por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa em 1960. Os dois pontos que a arquitetura da Bauhaus e a de Le Corbusier tinham em comum eram, em primeiro lugar, a obsessão pela cor branca que passou a ser característica principal de quem queria controlar a sua vida por meio do foco e da simplicidade; e, em segundo lugar, o fascínio pela abstração da realidade em contrapartida à empatia que surge quando o observador de uma obra de arte, por exemplo, quer se deleitar na beleza objetiva do real. Quem explica isso com uma clareza dilacerante é Wilhelm Worringer, em um livro intitulado justamente Abstraction & Empathy (1908), no qual ele argumenta que essas duas maneiras citadas anteriormente de contemplar e de produzir um objeto de arte podem produzir suas respectivas belezas. Contudo, nota-se também que a empatia pede uma aceitação do espaço objetivo tal como ele se apresenta diante dos nossos sentidos, enquanto a abstração quer justamente dominá-lo a qualquer custo, retirando o seu caráter concreto, pois o observador (ou o artista) em questão pode sofrer de “um inexprimível temor do cosmos”, o qual esmagará sua percepção das coisas, conforme for a escolha a ser feita de como ele terá de lidar com esses ruídos brancos que perturbam a nossa existência supostamente tão ordenada. 5. Do modo como apresentei até agora, é nítido para mim que a arte abstrata – cuja cor primordial é reconhecidamente o branco –, em conjunto com a sua “nova arquitetura”, é sobretudo um problema espiritual, no sentido de que ela capta, por meio de uma técnica com pretensões de ser rigorosíssima, a forma estética de como um ser humano compreende (e domina) o mundo ao seu redor. Segundo o crítico de arte norte-americano Hilton Kramer, a raiz dessa questão é que a arte abstrata foi o resultado direto da união entre a estética modernista e o ocultismo teosófico da famosa Madame Helena Blavatsky. Os dois fenômenos têm a mesma intenção utópica: por um lado, a estética modernista possui um lado prático e de ativismo político, ao querer alterar a sociedade e, por sua vez, modificar completamente a natureza humana; e por outro, o ocultismo teosófico pretende percorrer um caminho “místico” para colaborar com o progresso da humanidade e com a evolução do percurso espiritual do indivíduo (numa espécie de apropriação idiossincrática que Blavatsky tomou das descobertas biológicas feitas por ninguém menos que Charles Darwin). Os grandes exemplos do modernismo que marcaram essa fusão foram Vassili Kandisky, na Alemanha, Kazimir Malevich, na Rússia, e Piet Mondrian, na Dinamarca. Eles levaram ao extremo aquilo que Worringer chamou de “o temor inexprimível do cosmos”, mas com uma tamanha sofisticação espiritual que, em harmonia com a beleza estética, ficou evidente ali que o tema central desses artistas era a busca de uma “pureza” metafísica que ninguém sabia se seria atingida. É por causa dessa “pureza” – consagrada nos Estados Unidos por críticos como Clement Greenberg (responsável pelo sucesso retumbante de um desconhecido chamado Jackson Pollock) – que Steve Jobs ficaria profundamente influenciado pela arte abstrata modernista e obcecado pela cor branca, contribuindo ainda mais para a sua “visão de mundo” esteticista. Isso se dá de maneira concreta quando Jobs encontra aquele que ele próprio chamou de “seu parceiro espiritual”: Jonathan Ive (apelido Jony), um inglês nascido em 1967, formado em design pela Faculdade Politécnica de Newscastle e influenciado por ninguém menos que Dieter Rams, um dos gênios do grupo alemão criador de produtos sofisticados Braun, igualmente inspirado pela Bauhaus, e cujo lema era considerado o emblema máximo da simplicidade: “menos, mas melhor”. O relacionamento de Jobs com Ive foi um dos poucos em que o empresário mostrou verdadeiro respeito por um subordinado. Este não desapontou, mergulhando ao extremo em suas criações para a Apple, na ideia de que o simples era bom “porque, [segundo um documento pessoal divulgado posteriormente no livro Steve Jobs, de Walter Isaacson], como produtos físicos, é preciso sentir que os dominamos. Quando se impõe ordem à complexidade, descobre-se um jeito de fazer o produto submeter-se à nossa vontade. Simplicidade não é apenas um estilo visual. Não é apenas minimalismo ou ausência de confusão. Implica explorar as profundezas da complexidade. Para ser verdadeiramente simples, é preciso ir realmente fundo. Por exemplo, para não usar exemplos pode-se acabar desenvolvendo um produto muito intrincado e complexo. O melhor é ir fundo com simplicidade, compreender tudo que é preciso compreender sobre o produto e como ele é fabricado. É preciso entender profundamente a essência de um produto para podermos nos livrar das partes não essenciais” (grifo meu). Graças a esta filosofia explícita de controle e a uma afinidade de pensamento, Jobs deu liberdade completa a Ive para conceber sucessos que envolviam um grande risco, como o que aconteceu com o primeiro modelo do iPhone, cujo tipo especial de vidro que protegia o toque na tela, o Gorilla Glass, era, além de ser uma das marcas principais de quem se sente em dívida intelectual com a Bauhaus (por causa da límpida transparência do material), refletia, nas palavras de Walter Isaacson na biografia (quase) autorizada sobre o dono da Apple, “não só o perfeccionismo, mas também o impulso controlador de Jobs”, já que o aparelho vinha completamente fechado. Segundo o relato de Isaacson, “não havia como abrir a caixa, nem para tocar a bateria. Tal como o Macintosh original de 1984, Jobs não queria ninguém mexendo dentro dele. De fato, quando descobriu em 2011 que havia oficinas de conserto abrindo o iPhone 4, a Apple substituiu os parafusos minúsculos por um parafuso Pentalobe, para o qual não havia chaves de fenda no comércio”. Foi esta mistura entre liberdade criativa e controle na manutenção do produto a qual fez Jobs defender o design de Ive em fracassos que poderiam colocar a Apple em uma crise desnecessária – como o que aconteceu com o Antenagate, cujo acontecimento levou ao limite a tensão que sempre existiu na empresa “entre os designers, que querem que o produto tenha um visual bonito, e os engenheiros, que precisam garantir que o produto atenda a suas exigências funcionais”. Quando o iPhone 4 foi lançado em junho de 2010 ficou evidente como o design extremamente conceitual, influenciado pela arte abstrata, levou a problemas práticos e graves, conforme a história contada por Isaacson:
Todos esses fatos citados acima mostram que o dilema que Jobs – e, por consequência, a maioria das empresas de Silicon Valley – pensava existir entre a busca da simplicidade versus a complexidade do mundo era, na verdade, um falso dilema. O que está verdadeiramente em jogo, seja na arte abstrata, seja na nova arquitetura da Bauhaus e na de Le Corbusier, seja no design dos produtos da Apple – e de outros gadgets que a copiam –, é se a pessoa seria capaz de aceitar as incertezas intrínsecas do real e se ela estaria disposta abrir mão do controle para conviver com tamanha insegurança. Para fugir desta tensão inescapável entre a ideia e o fato, a estética torna-se então uma espécie de liturgia, um ritual para proteger o fiel daquilo que a verdadeira experiência religiosa deveria fazer com todos nós, mas do qual perdemos o sentido conforme o crescimento exponencial do desencantamento do mundo: amar o ruído branco da incerteza e enfrentar o fato de que a arte é, antes de tudo, “o tormento da expressão”, naquela famosa sentença dita por Henry James. Nesta deformação de um tempo que necessita de uma certa lentidão para ter a sua eficácia plena, a estética tecnológica transforma-se em esteticismo porque a pessoa que opta por este último – como foi o caso da relação profissional entre Steve Jobs e Jony Ive – quer controlar tanto o presente como o futuro, mesmo quando ambos não são mais uma utopia, mas sim distopias esteticamente atraentes, para que enfim a tecnologia consiga solucionar de uma vez todos os problemas vindouros, entre eles o modo como lidamos com o ócio e a contemplação. 6. A cor branca não é apenas uma cor que me lembra o mundo maravilhoso da Internet por causa da obsessão que Steve Jobs (um dos seus gurus supremos) tinha por ela. É também uma cor que me remete à experiência perfeita do que considero ser o ócio nesses novos tempos – e que foi completamente alterado por causa do que a tecnologia fez com esse estado de espírito semelhante ao Éden. Thomas Pynchon, no seu hilário romance Bleeding Edge (2013), em que conecta o estouro da bolha financeira de 2001 (a da “Internet”) com os atentados terroristas do 11 de setembro, faz um dos seus personagens comentar que o grande segredo em torno da tecnologia em rede nunca foi a proliferação da liberdade – como vendem muitos dos seus apologetas –, mas sim o controle total que os computadores teriam sobre a vontade humana. Essa vontade seria manipulada ao bel-prazer pelo mesmo círculo dos sábios que, como os arquitetos da Bauhaus, acredita que a pureza da cor branca pode ser também encontrada naquilo que o filósofo brasileiro Paulo Eduardo Arantes chamou de “o novo tempo do mundo”. Influenciado sobre as reflexões em torno da filosofia da história feitas pelo alemão Reinhart Koselleck, Arantes escreve que o Ocidente se encontra, neste início do século XXI, em um ritmo radicalmente distinto daquela “longa duração” com a qual o fluxo histórico se desenvolvia, segundo o historiador Ferdinand Braudel – e que permitia ao estudioso a chance de contemplar os eventos com uma lentidão que o ajudava a compreender corretamente o rumo final da Civilização. Só que agora, segundo Arantes, não há mais nenhuma brecha para uma contemplação do mundo ou para entender a lentidão do tempo histórico. Os ocidentais precisam dizer “adeus” à tal da longa duração de Braudel. A palavra-chave, a partir desses anos iniciais do século XXI, será “aceleração” – e o que teremos então é o deslocamento de um “horizonte de expectativa” (o conceito é de Koselleck) enquanto parâmetro de um “tempo do mundo” (a expressão sempre foi de Braudel) para nada mais, nada menos que a súbita insurgência de uma “grande Revolução”. É nítido que Arantes defende com fervor este “curso precipitado da História” porque, de maneira paralela, ele se regozija com o fato de que o globo terrestre inteiro se encontra em um “estado de crise permanente” – uma ideia emprestada de Giorgio Agamben –, enquanto analisa, em seu gabinete com ar-condicionado, “o abismo, que desde então não deixou de se aprofundar, entre o Espaço de Experiência e o Horizonte de Expectativa”, já que, “a certa altura do curso contemporâneo do mundo, a distância entre expectativa e experiência passou a encurtar cada vez mais e numa direção surpreendente, como se a brecha do tempo novo fosse reabsorvida, e se fechasse em nova chave, inaugurando uma nova era que se poderia denominar das expectativas decrescentes, algo ‘vivido’ em qualquer que seja o registro, alto ou baixo, e vivido em regime de urgência”, quando finalmente o próprio Arantes, com sua obra, identificará “o advento do instante histórico em que o horizonte contemporâneo do mundo começa de vez a encurtar e a turvar”. O filósofo brasileiro também afirma que, como a “aceleração social do tempo” se tornou uma “evidência que se alastra pelo conjunto de sociedades cada vez mais antagônicas, embora governada pela fabricação de consensos, a maré punitiva [das zonas de tempo prisionais e burocráticas que transformam os cidadãos comuns em meros prisioneiros] que a acompanha se abate necessariamente sob a forma de imobilizações, daí o real sentimento de tempo morto que essa onda de choque [da diminuição de expectativas] dissemina em sua passagem”, a ser traduzido “por uma inédita e massiva experiência negativa da espera”. Estas zonas de espera – que são tanto temporais como espaciais – criam um vácuo no qual, em uma homenagem irônica que Arantes faz a Umberto Eco, os integrados os quais estão nas elites políticas são transmutados em apocalípticos, pois passam a viver permanentemente em uma eterna sociedade de risco calculado, onde o sistema capitalista será o responsável pela elaboração de um comércio sujo desta necessidade tão premente. O Acidente, a Queda – enfim, a Catástrofe – não passam de um grande negócio corporativo, “onde o perigo se torna uma ameaça corrente, faz sentido que ele acabe assumindo uma forma institucional, conforme vá se cristalizando e adensando a ‘política intervencionista’ exigida pelo estado de emergência a que se resume uma gestão de riscos que por sua vez se revela como uma incubadora ela mesma de novos riscos desconhecidos. A literatura especializada costuma a se referir a essas catástrofes maiores que rondam as infraestruturas críticas como crises sem inimigo, mas que nem por isso deixam de ser socialmente desestabilizadoras e sobretudo responsáveis pela ressurreição recorrente, porém sob roupagem administrativa neutra, do poder soberano como poder de definir o estado de exceção”. Arantes amplia o conceito de Giorgio Agamben sobre o que significa o “estado de exceção”, exagerando-o, por certo, mas faz isso também porque sua intenção é mostrar que a “Exceção”, aqui, não passa de uma outra palavra para “êxtase”, em que “a Revolução, uma vez acionado o alarme de incêndio que a máquina infernal do capitalismo não deixa de trazer instalado no seu sistema de válvulas de escape, é a única Saída de Emergência, e, por mais assombroso que pareça, pela porta estreita e altamente ambivalente da Exceção. Há razões para essa bifurcação trágica, e elas não são banais nem filosoficamente neutras, pois a Exceção tanto anuncia a redenção quanto o fundo que uma parcela da humanidade tocou. Assim, não está excluído que a saída abra para o abismo. Ou para o círculo vicioso do colapso sem fim: basta imaginar o mundo como um único campo de refugiados de catástrofes humanitárias, ou a famigerada sociedade global finalmente alcançando seu ideal, isto é, exclusivamente composta de médicos socorristas e vítimas, sendo o capitalismo do desastre enfim apenas a última palavra nos negócios da fronteira”. Paulo Eduardo Arantes pode ser meio ousado (e bem túrgido na sua escrita) na sua correlação entre o desastre da aceleração do tempo e o capitalismo (afinal de contas, é um hegeliano de esquerda), mas creio que o conceito perturbador de um “novo tempo do mundo” o qual sufoca o ritmo do ócio contemplativo em “zonas de espera” é uma intuição que não deve ser desprezada. Contudo, foi divertido saber posteriormente que tal profecia tardia foi prevista em outros confins do Brasil – mais precisamente, no interior do estado de Minas Gerais, em um bairro miserável da cidade de Barbacena, no início dos anos 1940 – em plena Segunda Guerra Mundial –, quando o escritor francês George Bernanos viu nada mais, nada menos tudo aquilo que Arantes jamais conseguiu perceber neste início do século XXI. 7. Bernanos morava em um sítio modesto, mergulhado no verdadeiro ócio contemplativo, exilado da sua querida França e dos espectros políticos – os da direita, os da esquerda, os do centro, enfim, os que não levam a lugar nenhum –, após ter publicado Os Grandes Cemitérios sob a Lua (1938), a sua polêmica obra-prima sobre os desastres que levaram à Guerra Civil Espanhola (e, por consequência, à ousadia de Hitler e de Stalin contra a Europa), ao ter uma iluminação assustadora sobre o que motivava a “cólera dos imbecis” então em voga nos quatro cantos da Terra. Tratava-se do fato de que “os regimes outrora opostos pela ideologia estão agora estreitamente unidos pela técnica”, como ele escreveu em A França Contra os Robôs, outra obra-prima de retórica bombástica, lançada em 1945, tão espetacular quanto Os Grandes Cemitérios, com a diferença de que desta vez Bernanos não meditava sobre o presente ou o passado, como supunham seus detratores. Ele faz o que sempre fez: põe a eternidade à frente do nosso focinho, igual a um trauma do qual não temos como fugir, como se fossemos os cachorros que buscam desesperadamente por um pouco de alimento neste chão imundo da existência. Porém, há uma inovação (certamente, uma palavra desprezada no vocabulário do criador de Mouchette) neste panfleto aflitivo, escrito por um homem possuído pelo ruído branco de uma lucidez implacável. Se antes alguém poderia acusá-lo de “reacionarismo” porque Bernanos não queria aceitar o “progresso” da História, agora ele reconhece que não há outra forma exceto aceitar a tal da “técnica” como motor permanente da condição humana, em especial após o término da Segunda Guerra. Mas ele não vê este fenômeno nem de maneira positiva, nem negativa. Bernanos tem a incrível capacidade de transformar a palavra em um ato de visão imparcial – uma visão que, entretanto, é lançada ao mundo como a lava do vulcão que destrói a cidade ao lado. Machuca, incomoda, dilacera. Os escritos de Bernanos antecipariam a oposição aos trabalhos filosóficos de Michel Foucault e de Marcel Gauchet, cujas teses giram ao redor de como a democracia liberal é uma ideologia política que tenta substituir o vazio existencial provocado pelo que Max Weber chamou de “o desencantamento do mundo”. Se amplio estes temas para uma análise detalhada de como os defensores e os críticos da Internet também se aproveitaram do liberalismo clássico para construir uma visão de mundo peculiar, só posso concluir que, hoje em dia, jamais se deve identificar “a rede das redes” como integralmente assimilada ao que conhecemos sob o nome de “sociedade civil”. Porém, é exatamente isso o que nós fazemos no clima de opinião que domina nas universidades, redações e mesas de bar, cujos ruídos de informação são confundidos com conhecimento. Acreditamos piamente que a Internet seria o reino da necessidade transformada no reino da liberdade, onde as pessoas finalmente teriam a autossuficiência para governar suas vidas sem uma instituição centralizadora, que domine a propriedade privada e o fluxo das informações – ou, pelo menos, é o que passamos acreditar como se fosse uma nova “religião política”, digna daquelas ideologias totalitárias sobre as quais Bernanos já achincalhava em Os Grandes Cemitérios sob a Lua. Mas, lá no fundo, sabemos que tudo isso descrito acima não passa de uma triste ilusão. Apesar do liberalismo metamorfoseado na ideologia californiana do libertarianismo hippie de Silicon Valley – e depois na libertinagem do comportamento humano redimido pela tecnologia –, o fato é que a Internet nunca teve a liberdade como seu fim. Era – para voltarmos à afirmação de Thomas Pynchon – apenas mais uma ferramenta de controle, cuja intenção primeira jamais foi ajudar o ser humano, mas sim manipulá-lo como poucas vezes foi visto na História, numa revolta da tecnologia que só pode ser compreendida adequadamente como o complemento da revolta que o próprio homem quis realizar contra a sua intrínseca fragilidade. Em A França Contra os Robôs, Bernanos, mesmo sem ter tido acesso à Internet ou ao Facebook (morreria em 1948), percebeu que a modernidade seria um projeto corrompido em sua essência, dominando o homem em todos os seus graus e estratos, exceto um: o da imbecilidade. Assim como Raymond Aron e Eric Voegelin, ele reconhece que talvez o principal impulso da história humana é a estupidez dentro de todos nós. E isto não seria uma exceção no modo como passamos a lidar com a técnica, a tecnologia e a aceleração desenfreada do “novo tempo do mundo”. Mas um aviso: não se trata da estupidez pura e simples, do néscio que não consegue raciocinar adequadamente por algum impedimento cognitivo. É algo mais profundo. Bernanos fala do imbecil que se considera alguém realmente inteligente, absolutamente incapaz de reconhecer a “inteligência humilhada” de que tanto falou Santo Agostinho em Confissões. Com sua escrita ferina, o francês dá a perfeita definição do que significa ser um estúpido nos dias de hoje: “A experiência me demonstrou há muito tempo que o imbecil nunca é simples, e muito raramente é ignorante. O intelectual deveria, portanto, por definição, parecer-nos suspeito? Certamente. Chamo intelectual ao homem que dá a si mesmo esse título, em razão dos acontecimentos e diplomas que possui. Não falo, evidentemente, do erudito, do artista ou do escritor cuja vocação é criar – para os quais a inteligência não é uma profissão, mas uma vocação. [...] O intelectual é com tanta frequência um imbecil que deveríamos tomá-lo sempre como tal, até que nos tenha provado o contrário”. Aqui, o centro da questão é que o intelectual – um sujeito que precisa do ócio contemplativo para executar o seu trabalho – se tornou um dependente da técnica e da tecnologia por não assumir as falhas do seu pensamento ao refletir sobre as sutilezas da realidade. Daí sua defesa encarniçada de uma inteligência vendida aos robôs há muito tempo, amputada da vida espiritual que seria o verdadeiro fundamento da nossa sociedade. Muito antes de Paulo Eduardo Arantes, o autor de Diálogo das Carmelitas já tinha percebido que o eixo do “novo tempo do mundo” seria encontrar mais uma forma de controlar a liberdade interior do ser humano, dando-lhe em troca uma precária liberdade exterior que se uniria com o pior dos totalitarismos – o do imbecil como o único governante possível. 8. Essa “imbecilidade inovadora” surgiu definitivamente na reviravolta ocorrida entre o final da Idade Média e o início do Renascimento – aquele momento que é chamado de “humanismo cristão” –, por volta do final do século XIV e início do século XV. Sua maior consequência foi o modo como passamos a conviver com o ócio. Em um precioso livro póstumo chamado Comunicologia, Vilém Flusser comenta que, se entenderemos que a origem do termo “ócio” vem do grego skholé, que é a mesma coisa que “escola”, então temos aqui também uma maneira, um ritual, uma liturgia, o estado de espírito em que uma pessoa se abre para o sagrado. Esta abertura tem a ver com uma conhecida frase medieval, que diz o seguinte: “Non vitae, sed scholae discimus” - “Não aprendemos para a vida, mas para a escola”. Assim, a escola torna-se a meta da vida, e apenas na era moderna isso é invertido em uma frase absolutamente irracional: “Non scholae, sed vitae vivimus” - “Não vivemos para a escola, mas para a vida”. Flusser não hesita em afirmar que
A reviravolta se dá quando o Renascimento transforma para sempre a experiência da escola e do ócio, que deveria ser essa preparação para a morte, em uma exigência técnica, puramente ativista ou ideológica, a qual não respeita as estruturas da realidade e não se importa mais com as necessidades espirituais do ser humano. É neste momento que a minha visão da cor branca como a que predomina no nosso mundo tecnológico se revela, no mínimo, numa alucinação provocada por uma gigantesca dissonância cognitiva. Na verdade, o que eu deveria ter percebido antes não era uma cor – e sim um ensurdecedor ruído. Ou, pior, vários ruídos, que contaminam não só a nossa percepção do real, mas sobretudo o modo como nos preparamos para este exame de maturidade que Flusser chama de “morte” e que, como Bernanos, chegou à conclusão de que a Internet é um lugar abstrato, quase etéreo, irreal, onde a imbecilidade reina porque lá ninguém mais quer se preparar para o fim de todos nós. O ócio e a contemplação em si foram destruídos em função deste novo ídolo desconhecido chamado “inovação”. Parece ser um novo Éden, mas trata-se de um deserto, um deserto que está na esquina ao lado da nossa casa, um deserto espremido no vagão do metrô e, mais do que isso, um deserto que habita no coração de cada irmão que convive conosco. Não me parece ser casual o fato de que a cor branca é também a cor favorita dos arquitetos e dos engenheiros da alma que se preocupam somente em construir, construir e construir habitações impessoais e de frio concreto, deixando de lado qualquer espécie de templo sagrado que faça o homem ficar aberto à morada da experiência sagrada ritualizada pela skholé. Parafraseando T.S. Eliot, em seu grande poema inacabado “Choruses from ‘The Rock’”, escrito em 1934 – antes do grande cataclisma que foi a Segunda Guerra Mundial –, a inovação e a invenção infinitas, frutos do ciclo sem fim que sempre aconteceu entre a ideia e a ação, junto com a experimentação sem repouso, só nos levaram a um conhecimento a respeito do movimento do mundo, jamais sobre sua quietude. A construção dos objetos e das moradias que circundam e ocupam o mundo contemporâneo também depende da possibilidade de estarem imersos na brancura do Nada. Afinal, o que temos atualmente é o conhecimento da fala, do discurso, das palavras, mas não o conhecimento do silêncio; possuímos o conhecimento da gramática, mas não o do Verbo. Nos ruídos brancos que preencheram nosso espírito – e que não queremos ouvi-los porque nos lembram dessa experiência da maturidade que é a nossa própria morte –, tudo o que supúnhamos conhecer nos deixa cada vez mais perto da nossa ignorância, e cada partícula desta ignorância nos deixa próximos daquilo que desejaríamos ser a libertação, porém nos afasta ainda mais do sagrado que deveria ser a nossa derradeira construção. No “novo tempo do mundo”, perdemos a vida que tínhamos em vivê-la. Abandonamos a sabedoria que havia no nosso conhecimento. Esquecemos do conhecimento que acreditávamos existir na estática opaca dos dados e da informação. E esperamos que, após perdermos o controle tão desejado, exista uma brecha derradeira que nos faça reencontrar enfim a luz invisível, sem cor nenhuma, mesmo que ela fique manchada para sempre com as nossas sombras. O texto acima é um dos capítulos da coletânea Vida Horizontal - Ensaios Sobre o Ócio e a Demora, publicado em Portugal pelas editoras Letras Lavadas e Arquipélago De Escritores, com coordenação de João Pereira Coutinho e Nuno Costa Santos. *** Quem quiser colaborar com o meu trabalho, além do valor da assinatura desta newsletter pessoal, pode me ajudar por meio do pix: martim.vasques@gmail.comE quem quiser apertar o botão abaixo só para fazer a minha felicidade - e manter essa newsletter de modo mais profissional, be my guest: You're currently a free subscriber to Presto. For the full experience, upgrade your subscription. |
Total de visualizações de página
sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Ruídos Brancos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
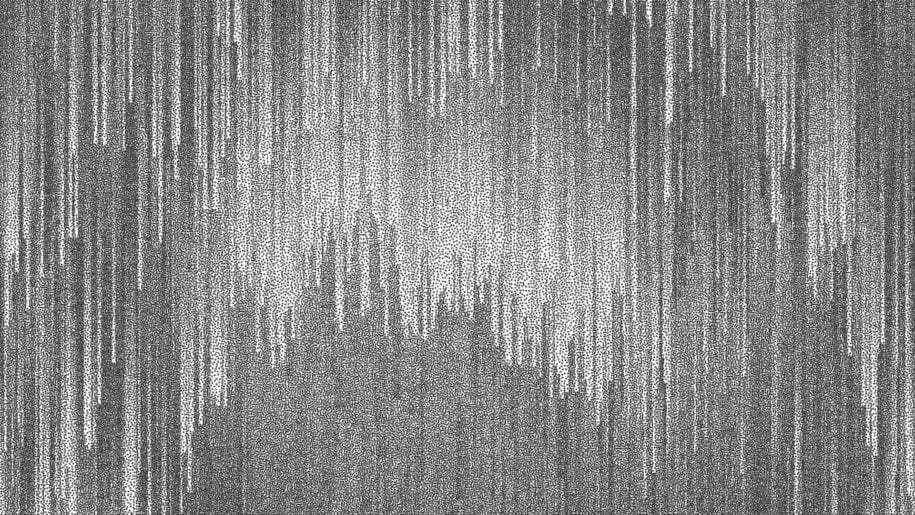

Nenhum comentário:
Postar um comentário